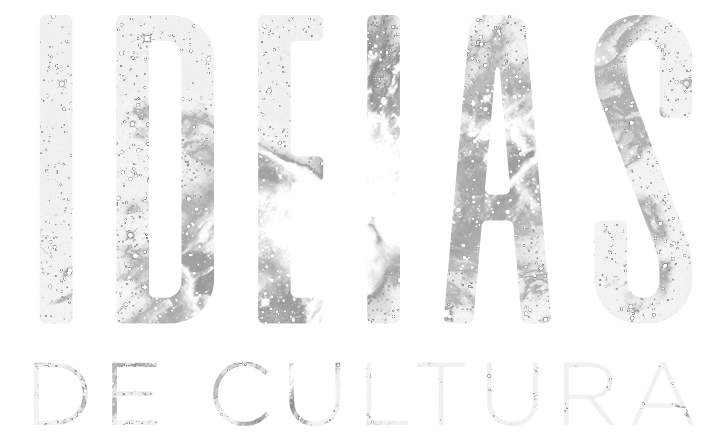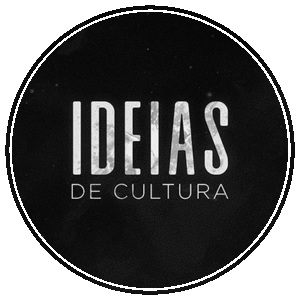O papel da cultura na Meta 11.4 e no fortalecimento das comunidades.
Quando nos referimos ao ODS nº 11 — “Cidades e Comunidades Sustentáveis” — estamos lidando com um objetivo particularmente simbólico para a cultura. Embora a cultura possa contribuir para praticamente todos os ODS (como sustenta o relatório Culture|2030 Indicators da UNESCO), o ODS-11 é o único que menciona explicitamente a cultura em suas metas. A Meta 11.4 afirma: “fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo.” (ONU Brasil) Essa meta torna estratégica a atuação cultural, conectando o fazer artístico e comunitário à preservação simbólica e funcional dos lugares.
Antes de pensar nas formas de atuação, é útil pacificar o conceito de patrimônio cultural. “Patrimônio” remete ao que deve ser preservado — aquilo que pertence a um povo, que identifica um grupo ou uma história. O patrimônio cultural carrega uma carga simbólica: modos de existir, de pensar, de fazer que enraízam pessoas em lugares e tempos. Ele se divide, de modo geral, em duas categorias: patrimônio material (tangível) — edifícios históricos, museus, acervos, monumentos, objetos — e patrimônio imaterial (intangível) — práticas vivas como rituais, músicas, culinárias, danças, modos de fazer locais, histórias orais e linguagens. Exemplos internacionais reconhecidos incluem o teatro de marionetes Karagöz, da Turquia, e a tradição japonesa do saquê (sake brewing). No Brasil, o Complexo Cultural do Bumba-meu-boi do Maranhão, o Frevo, a Roda de Capoeira e o Círio de Nazaré são patrimônios culturais imateriais inscritos nas listas da UNESCO.
Com esse entendimento, destacamos quatro vias principais pelas quais a cultura pode contribuir com o ODS-11:
1) Valorização e intervenção no patrimônio material urbano
Ao utilizar prédios, equipamentos culturais ou espaços simbólicos — praças, centros culturais, teatros, galerias — como palco de manifestações artísticas, o projeto cultural fortalece o sentimento de pertencimento e a autoestima comunitária. Além disso, se promove pequenas melhorias de conservação e acessibilidade — ou simplesmente valoriza simbolicamente o espaço, comunicando sua importância —, o projeto atua também como agente de preservação urbana.
2) Salvaguarda, registro e pesquisa do patrimônio imaterial
Essa dimensão envolve a documentação de saberes, línguas e práticas culturais. O Museu do Índio (FUNAI), por exemplo, mantém programas de documentação de línguas indígenas, parte de um universo estimado entre 150 e 180 línguas ainda faladas no Brasil. Ao registrar as práticas de mestres populares, modos de produção alimentar, histórias orais e festejos, projetos culturais garantem a transmissão desses elementos às futuras gerações. Nesse sentido, inventários e pesquisas não são apenas práticas acadêmicas, mas instrumentos de resiliência comunitária e de fortalecimento da identidade cultural.
3) Valorização social e remuneração dos mestres culturais
Para além da remuneração direta, que é essencial porque permite que os mestres tenham condições de dedicar-se à sua arte e, sobretudo, à transmissão de seus saberes para as novas gerações, é fundamental promover sua visibilidade. Convidá-los para eventos, colocá-los em destaque na divulgação, contar suas histórias em entrevistas e reportagens, produzir conteúdos digitais e presenciais que permitam ao público compreender sua trajetória são práticas que integram uma salvaguarda simbólica. Dessa forma, mestres de capoeira, de bumba-meu-boi, de produção artesanal ou de culinária regional são reconhecidos socialmente e têm seu protagonismo cultural legitimado.
4) Turismo de base comunitária como prática integradora
O turismo de base comunitária coloca o visitante em posição de aprendiz e integrante da realidade local. Um exemplo é o projeto Novo Sertão, em Betânia do Piauí, onde turistas nacionais e internacionais vivenciam práticas de plantio, colheita, culinária local, dança, teatro e costumes do sertão nordestino. Nesse modelo, a identidade local é o foco e não se perde com a presença do turista, mas se fortalece. Quando uma moradora que sempre produziu beiju ou farinha de mandioca percebe o fascínio que sua prática desperta em visitantes, ganha consciência de que o que faz é relevante, belo e sustentável. Essa valorização reforça a autoestima comunitária e incentiva a continuidade das práticas tradicionais.
Por fim, é importante notar como o sentimento de pertencimento se conecta diretamente ao bem-estar urbano. Pesquisadores canadenses Scannell & Gifford (2010), no artigo Defining place attachment: A tripartite organizing framework, demonstram que o apego e o pertencimento ao lugar estão diretamente ligados à qualidade de vida, pois ampliam vínculos sociais, reduzem a alienação e aumentam a resiliência individual e comunitária. Ou seja, cuidar do patrimônio cultural — material e imaterial — é também cuidar da vida urbana, fortalecendo identidades, memórias e redes de apoio que tornam cidades mais justas e sustentáveis.
Referências
AGÊNCIA ONU BRASIL. ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis. ONU Brasil, 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11. Acesso em: 26 set. 2025.
MUSEU DO ÍNDIO (FUNAI). Documentação de Línguas Indígenas. Rio de Janeiro: Museu do Índio, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/museudoindio/pt-br/assuntos/pesquisa/linguas-indigenas. Acesso em: 26 set. 2025.
PIB SOCIOAMBIENTAL. Línguas indígenas no Brasil. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2025. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Línguas. Acesso em: 26 set. 2025.
SCANNELL, L.; GIFFORD, R. Defining place attachment: A tripartite organizing framework. Journal of Environmental Psychology, v. 30, n. 1, p. 1-10, 2010.
UNESCO. Culture|2030 Indicators. Paris: UNESCO, 2019. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371562. Acesso em: 26 set. 2025.
UNESCO. Intangible Cultural Heritage Lists. Paris: UNESCO, 2025. Disponível em: https://ich.unesco.org/en/lists. Acesso em: 26 set. 2025.